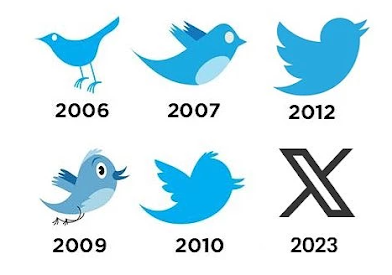Passamos os últimos anos com o défice na boca, mas quando atingimos o menor valor das últimas quatro décadas, pareceu, de facto, que houve mais vida para além disso.
A rapidez com que a volatilidade da agenda consome o espaço mediático transforma toda a matéria num dado superficial ou, como que agora se diz, em factos alternativos.
O universo político, do parlamento, das comissões, dos gabinetes, dos assessores, dos jornalistas, dos comentadores, interligado com as “forças vivas” da sociedade civil, consubstanciados por conselhos de ilha, associações empresariais, ordens profissionais, sindicados, e muitas outras representações, alimentam-se de um debate em ‘loop’, realizado vezes sem conta e em circuito demasiado fechado, distante do real e das pessoas.
Para Rui Tavares (Público, 17/01/17), “o que os nossos debates revelam é que Portugal é um problema político no sentido de não termos constituído uma sociedade que saiba deliberar em conjunto com qualidade e responsabilização, o que, por sua vez, ocorre em primeiro lugar por causa do enquistamento da classe partidária nacional e da enormíssima preguiça dos seus atores, habituados que estão a fazer política quotidiana sempre da mesma forma: fechados no Parlamento e virados para as televisões.”
A equidistância entre um tempo e o outro funciona por oposição, em que a compatibilidade de um não tem o mesmo significado, e aplicabilidade, do outro.
As naturais expectativas das populações esbarram, ingenuamente, no tempo regimental e na publicação legislativa, cuja concretização cumpre a imperceptibilidade do preâmbulo.
Cumprimos um tempo difuso, desacreditado, dessacralizado, extremo, excessivo, fanático e propenso a ismos.
Entre cá e lá: um ex-Presidente da República intenta um ajuste de contas e a (re)posição da realidade tal como ele a compreende; um Ministro dos Negócios Estrangeiros diz o dito por não dito e coloca em causa um documento oficial (e fragiliza a sua imagem pública e a sintonia institucional intergovernamental); num período de enorme fragilidade económica e social para as famílias e para o país, ficamos agora a saber que 10 mil milhões de euros foram transferidos para offshores, entre 2011/2014, sem fiscalização por parte da Autoridade Tributária (e perante a incredulidade dos portugueses); o debate sobre o processo de incineração em São Miguel promete continuar a incendiar e a dividir opiniões, e não me parece que haja nada a ganhar com o extremar de posições, sendo que esta é uma decisão demasiado séria para ser ignorada e desvalorizada por quem tem responsabilidades na sua resolução.
Mesmo à distância, mas aqui tão perto, Onésimo Teotónio de Almeida (Visão, 18/02/17) lê com grande acutilância aquilo que somos: “Nos EUA vejo muito mais enraizada a atitude de comprometimento: há algo que depende também de mim e eu terei de ser o primeiro a empenhar-me em mudar. As pessoas que apenas criticam acabam não sendo ouvidas. Quem abre a boca sem dar primeiro o exemplo da ação positiva é considerado um fala-barato. Está vulgarizada a crença de que as obras falam mais alto que as palavras. Em Portugal palramos de mais e agimos de menos. Culpar os outros é sempre uma saída fácil para a nossa sedentária inação.” Não podia estar mais de acordo.
A indignação entre eleitos e eleitores (instituições/população) passou a ser uma constante, na medida em que perpassa na sociedade da hiper-realidade um clima de suspeição permanente, gerador de tensão na timelime, ávida do vazio da novidade.
Parafraseando Byung-Chul Han na sua obra seminal ‘No Exame’ (Relógio D’ Água, 2016): “A sociedade da indignação é uma sociedade do escândalo. É desprovida de firmeza, de contenção. A rebeldia, a histeria e a obstinação peculiares das ondas da indignação não permitem qualquer comunicação discreta e objectiva, qualquer diálogo, qualquer debate. (…) A atual multidão indignada é extremamente fugaz e dispersa. Falta-lhe por completo a massa, a gravidade, necessária à ação. Não engendra qualquer futuro.”
O fim da História não se escreveu, altera-se a uma velocidade vertiginosa, e a incerteza passou a ser o garante do (nosso) futuro.